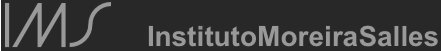“Stokowski, o regente sensacional, a caminho do Rio.”
A chamada, estampada na primeira página do jornal A Noite (30-07-1940), dá uma boa medida do assunto que, em contraponto ao pavor da Segunda Guerra Mundial, ocupava os periódicos cariocas naquela virada entre julho e agosto de 1940. A cidade se preparava para receber um pop star da música de concerto da época, Leopold Stokowski, maestro inglês radicado nos Estados Unidos que, à frente da All American Youth Orchestra, se apresentaria em dois recitais – nas noites de 7 e 8 de agosto – no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
Estrela do filme “Cem homens e uma menina”, produção da Universal Pictures (1937) que até o início de 1940 ainda estava em cartaz nos cinemas cariocas, Stokowski já andava há um bom tempo nas páginas. Fosse desmentindo o romance – que existia – com a atriz Greta Garbo (Correio da Manhã, 29-10-1937), fosse citado como “o Rodolfo Valentino da regência” (A Noite, 24-07-1940), como “simpatizante do comunismo” (Diário de Notícias, 27-03-1940) ou, simplesmente, como “o maestro que não usa batuta” (A Noite, 30-07-1940), uma de suas marcas, assim como a cabeleira prateada.
Assim, era de se esperar o aglomerado de populares (além da imprensa) que foi à Praça Mauá no início da noite de 6 de agosto, quando desembarcaram – o maestro e os 109 integrantes da orquestra – do navio SS Uruguay. Chegou se arriscando no português – “Orgulho-me de conhecer a vossa língua”, teria dito, segundo O Jornal (08-08-1940) – e reclamando dos preços dos ingressos para os recitais, conforme se leu no mesmo impresso: “Sou muito democrata. Por mim, daria os concertos de graça.”
A grã-finagem carioca, aparentemente, não se incomodou. Ou não teria esgotado os ingressos (dos mais baratos, no balcão G, a 200 mil réis, aos mais caros, nos camarotes, a um conto e 200 mil réis), como já havia feito em julho, quando se apresentou no mesmo Municipal a Sinfônica da National Broadcasting Company (NBC), sob a regência do italiano – também radicado nos EUA – Arturo Toscanini. Pois foram fartos os aplausos para Stokowski e seus jovens músicos, especialmente na segunda noite, quando a petropolitana Magdalena Tagliaferro veio ao palco para interpretar “Momoprecoce”, fantasia para piano e orquestra composta por Heitor Villa-Lobos.
Jornal do Commercio, 07-08-1940
Claro que essa presença da música estadunidense por aqui não era à toa. A Política da Boa Vizinhança, criada em 1933 pelo governo dos Estados Unidos para estreitar relações com países latino-americanos, ganhava importância estratégica desde o início da Segunda Guerra Mundial (1939). E o Brasil, então governado por um presidente – Getúlio Vargas – simpático à Alemanha nazista, era um vizinho merecedor de atenção especial pelos EUA, que, apesar de se manterem neutros até fins de 1941, já vinham colaborando com as tropas aliadas por meio de armas e munições que forneciam ao Reino Unido desde o início dos conflitos.
Entre as ações voltadas para o Brasil destacam-se as de caráter cultural, especialmente os filmes que Carmen Miranda – vivendo nos EUA desde maio de 1939 – estrelou na 20th Century Fox e os longas de animação produzidos pela Disney a partir de 1942, com o papagaio Zé Carioca entre os protagonistas. Pois em agosto de 1940, quando a França e outros seis países europeus já estavam ocupados pelas tropas de Hitler, foi a vez de Stokowski e sua jovem orquestra partirem em turnê pela América do Sul, tendo o Rio de Janeiro como primeira parada.
O que pouca gente sabia era que, além dos concertos, o maestro pop star tinha um plano ambicioso a ser realizado durante a estada carioca: fazer gravações de música brasileira. Ou melhor, da música “tipicamente brasileira, derivada de fontes indígenas antigas, das origens espanholas (sic) e da música típica popular de hoje”, como escreveu ao colega Villa-Lobos, que já conhecia desde a década de 1920, quando se encontraram em Paris, e que em 1940 já era o nome mais conhecido e respeitado da música brasileira internacionalmente.
Na carta, escrita em inglês e datada de 03-07-1940, Stokowski perguntava se Villa poderia ajudá-lo na seleção de artistas e nas providências necessárias para as gravações, que seriam levadas a um congresso pan-americano de folclore. O maestro brasileiro respondeu no dia 16-07-1940, afirmando – em francês – que não só topava o desafio, como estava “encantado” com o “plano de intercâmbio folclórico”. Também pediu 500 dólares “para despesas gerais” e solicitou que o Brasil ficasse com cópias dos discos gravados.
Stokowski, então, respondeu (20-07-1940) oferecendo 100 dólares – conforme sugestão do embaixador dos EUA no Brasil, Jefferson Caffery – e o remetente, mesmo contrariado, seguiu adiante com as providências. Como tinha livre trânsito com sambistas e chorões (sem saber, o maestro inglês tinha acertado na mosca), Villa foi direto ao amigo Donga, violonista e compositor do primeiro time, a quem encarregou de arregimentar os participantes das gravações.
O sambista respondeu a Villa – em 29-07-1940 – solicitando um “adiantamento urgente” de 1:700$000 (um conto e setecentos mil réis) para as providências. O valor, que equivalia aos 100 dólares oferecidos por Stokowski, foi destrinchado por ele na carta a Villa-Lobos: maracatu e frevo (200 mil réis), grupo regional (200 mil réis), sambas (100 mil réis), macumbas, candomblés e batucadas (200 mil réis), modinhas (50 mil réis), choros (200 mil réis), emboladas, desafio e toada (300 mil réis), instrumentações (200 mil réis) e despesas diversas (250 mil réis).
“A gravação poderia perfeitamente ter sido feita em condições bem mais favoráveis no estúdio da Columbia, no Rio de Janeiro”, como ponderou o jornalista Sérgio Cabral na biografia “Pixinguinha, vida e obra” (Lumiar Ed., 1997), mas o local determinado foi o próprio SS Uruguay, o navio que atracou na Praça Mauá munido de técnicos e equipamentos para fazer as gravações a bordo. Ficou acertado que as mesmas seriam realizadas em 07-08-1940, logo após o primeiro concerto no Theatro Municipal.
Estúdio navegante: o SS Uruguay atracado na Praça Mauá (reprodução da internet)
E assim foi, como publicou A Noite (08-08-1940): “O salão de música do Uruguai, em toda a sua existência, talvez não tenha abrigado tanta celebridade como o fez ontem à noite”, informou o periódico na primeira página, entre fotos dos sambistas (em trajes típicos) e dos maestros (trajando smokings). “Celebridades do samba, da macumba, do candomblé, do choro, da modinha, do maracatu, do frevo, da embolada, da flauta, do pandeiro, da cuíca, do violão, da clarineta, do saxofone, do reco-reco... Villa-Lobos e Stokowski.”
Prossegue A Noite, descrevendo o que se passou naquele 7 de agosto: “Às 22 horas, começou a concentração dos ‘conjuntos’ e ‘escolas de samba’, orquestras, gente que ia cantar e gente que ia ouvir. Neste último grupo, o próprio comandante do navio, que logo tomou lugar em uma cômoda poltrona de onde acompanhou todo o desfile.”
Donga compareceu com seu regional e Cartola, com três ritmistas e sete pastoras da Mangueira. Zé Espinguela trouxe o seu “Conjunto de Pai Alufá” para cantar pontos de macumba, enquanto Jararaca e Ratinho, vestidos a caráter, vieram com emboladas na ponta da língua. Pixinguinha tirou sua flauta do estojo para tocar choros, assim como o saxofonista e clarinetista Luiz Americano. E João da Baiana embarcou pronto para cantar, assim como Zé da Zilda, Mauro César e a crooner Janir Martins.
A reportagem d’O Globo também esteve a bordo, conforme se leu na edição de 08-08-1940, com a ordem das gravações: “Primeiro, os maracatus e frevos, de autoria de Pixinguinha. Em seguida, solos de choros de Luiz Americano e seu conjunto. A parte cantada principiou com Janir Martins, cantora da Rádio Nacional, possuidora de boa voz e boa interpretação do samba, e José Gonçalves, em ‘Seu Mané Luís’. O mesmo José Gonçalves gravou o samba de breque ‘Uma festa de Zés’.”
Os leitores do jornal carioca souberam ainda das gravações da Estação Primeira de Mangueira (“quatro produções de Cartola, todas do mais legítimo sabor de nossos morros”), Jararaca e Ratinho (“a difícil embolada ‘Bambo do bambu’”), Augusto Calheiros (“modinhas de Catulo da Paixão Cearense”), dos velhos do rancho Sodade do Cordão (pontos) e de quatro músicas de Donga e David Nasser cantadas por intérpretes diversos: as marchas “Meu jardim” e “Quando uma estrela sorri” e os sambas “Sofre quem faz sofrer” e “Samba da lua”.
Cartola ao microfone, em reprodução de foto do Diário de Notícias (08-08-1940)
“Passou-se então ao número de maior sensação da noite: o solo de flauta de Pixinguinha em ‘Urubu malandro’”, informou a matéria d’O Globo, atenta à reação dos componentes da All American Youth Orchestra, que chegou ao navio durante a sessão. “Todos os presentes ficaram entusiasmados não só com o pitoresco da música, como pela execução primorosa de Pixinguinha, a ponto de um dos chefes da orquestra dizer: ‘Este é um dos melhores flautistas que já ouvi.’”
Segundo A Noite (08-08-1940), “já passava muito de meia-noite quando chegaram os maestros Stokowski e Villa-Lobos. Os fotógrafos se movimentam, na ânsia de colher os melhores flagrantes, mas o famoso regisseur de Filadélfia foge discretamente das objetivas.” Segundo o cineasta e escritor Roberto Moura, a partir de entrevistas com presentes àquela noite, foram oito horas de gravação, até as 6h, sendo que na fase final os trabalhos foram assumidos por Michael Myerberg, produtor da Columbia, depois que Stokowski, alegando cansaço, se retirou às 3h.
“Foi delicioso”, disse, em depoimento a Moura, Mindinha (companheira de Heitor) Villa-Lobos. “O que aconteceu é que espiritualmente foi formidável, porque todos ficaram muito contentes, muito felizes de estarem com uma figura de proa, porque naquela época o Stokowski era um deus”, relembrou, impressionada com o ambiente dentro da embarcação – a mesma que, em 1939, havia levado Carmen Miranda para iniciar a fase estadunidense de sua trajetória. “Era um grande salão que tinha no navio com todo aquele aparelhamento.”
A eterna baluarte mangueirense Dona Neuma (Neuma Gonçalves), que participou das gravações no coro feminino de Cartola, também compartilhou suas memórias com Roberto Moura. “Sabe o que eu queria? Conhecer o navio. Eu não queria saber do cara que estava regendo, eu não entendia o que ele falava”, disse a pastora, então com 18 anos, ao recordar o momento em que ficou cara a cara com as mãos de Stokowski. “Todos os gestos nós já sabíamos, ensinados pelo maestro Villa-Lobos.” A mesa farta também ficou na lembrança: “Foi a primeira vez que nós comemos peru com abacaxi, carne de porco com ameixa, um jantar luxuoso.”
Reprodução de foto publicada na primeira página do jornal A Noite (08-08-1940): no canto direito da foto, com o pandeiro, vê-se João da Baiana; ao lado dele, a jovem Neuma Gonçalves
Embora alguns veículos falassem em uma centena de músicas gravadas pelos estadunidenses, a maior parte das fontes indicam que foram 40 as gravações realizadas, “entre sambas, choros, batucadas, modinhas, maracatus e pontos de macumba”, como enumerou Ruy Castro em seu livro “Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio” (Cia. das Letras, 2025). “Nunca um navio jogou tanto ao ritmo de repiques, surdos e tamborins.”
Terminada a turnê sul-americana (com recitais também em São Paulo, Montevidéu, Buenos Aires e Rosário), todos zarparam de volta no SS Uruguay, com uma parada ainda em Ciudad Trujillo – antigo nome de Santo Domingo, capital da República Dominicana – para um último concerto. E Stokowski, que nunca mais falou no tal congresso pan-americano de folclore, assim que pisou nos EUA entregou à Columbia os acetatos com as gravações brasileiras.
Somente no início de 1942, o material foi comercializado, na forma de dois álbuns de 78 rotações (cada um com quatro discos) intitulados “Native Brazilian Music”. Ou seja, das 40 gravações feitas no navio, apenas 16 puderam ser ouvidas pelo público – o estadunidense, pois os discos nunca foram lançados por aqui.
Ou melhor: em 1987 as 16 gravações foram reunidas num LP – também chamado “Native Brazilian Music” – lançado pelo Museu Villa-Lobos, em meio às comemorações pelo centenário de nascimento de Heitor Villa-Lobos. Com a iniciativa – produzida por Suetônio Valença, Jairo Severiano e Marcelo Rodolfo – materializavam-se, enfim, as gravações que, com o tempo, ganharam status de lenda, como “o disco de música brasileira que só saiu lá nos Estados Unidos”.
“A maioria dos músicos morreu sem nunca ter ouvido as gravações”, observou a pesquisadora Daniella Thompson em um dos textos imprescindíveis que escreveu sobre o álbum duplo em seu blog Música Brasiliensis. “Poucos foram pagos por elas. Cartola recebeu uns míseros 1.500 réis, o suficiente para comprar três maços de cigarro baratos, um ano e meio depois das gravações”, contabilizou Daniella, antes de informar que Cartola só foi ouvir sua participação no álbum na casa do cronista Lúcio Rangel “uns bons vinte anos depois das sessões no Uruguay”.
Capas: o álbum da Columbia de1940 e o LP lançado pelo Museu Villa-Lobos de 1987
Pois o lançamento do Museu Villa-Lobos em 1987 permitiu que o público brasileiro não só pudesse ouvir as gravações de 1940, como também saber mais sobre elas, graças ao encarte desta nova edição, com textos fundamentais do pesquisador Ary Vasconcelos. Textos informativos e também críticos, especialmente à maneira descuidada como a Columbia, no álbum original, creditava os nomes das músicas e seus compositores. João da Baiana, por exemplo, aparecia como Yoad Machrado Cudo J, segundo Ary “a maneira mais estropiada possível de se escrever” o nome verdadeiro do grande sambista, João Machado Guedes.
Mesmo assim, no LP permaneceu a grafia Rae Alufa – versão estropiada de Pai Alufá – para o nome do conjunto de Zé Espinguela que interpreta os pontos que abrem os trabalhos de “Native Brazilian Music”: “Macumba de Oxóssi” e “Macumba de Inhansã”, ambas com autoria creditada a Espinguela, mas que, segundo Ary, seriam também de Donga. Este também é um dos autores de “Ranchinho desfeito”, samba-canção que dividia outro 78 rpm com “Caboclo do mato” (corima de João da Baiana) e, no rótulo do disco original, chamava-se simplesmente “Samba cancao”, sem créditos para o intérprete – Mauro César.
Aí vinham, então, mais dois clássicos de Donga: “Seu Mané Luiz” (parceria com Cícero de Almeida) e “Bambo do bambu”, esta com o “violão sensacional” de Laurindo de Almeida acompanhando Jararaca e Ratinho, que brilham também em “Sapo no saco”, de autoria deles. Já no verbete de “Keke re ke ke” (originalmente identificada como “K Keri KK” pela Columbia), segundo Ary Vasconcelos, tudo indica que a composição seja “só do João”, e não em parceria com Donga e Pixinguinha, conforme creditado.
Outro ponto alto do álbum é o maracatu estilizado “Zé Barbino”, cujo 78 rpm é definido pelo pesquisador como “um dos raros discos em que Pixinguinha atua também como cantor”, aqui fazendo dueto com Jararaca, seu parceiro na composição. E do outro lado pode-se ouvir Luís Americano solando no clarinete, de sua própria autoria, o choro “Tocando pra você”, neste registro de um “momento extraordinário nas sessões de gravação realizadas a bordo”.
Já nas duas gravações seguintes ouve-se José Gonçalves (vulgo Zé da Zilda) interpretando composições de Donga: “Pelo telefone” (com Mauro de Almeida), que a Columbia identificou como “zamba” (e Ary salienta que “não é um samba qualquer, mas justamente o primeiro a celebrizar-se como tal”), e “Passarinho bateu asa”. Depois vem “Quem me vê sorrir”, que registra a estreia de Cartola – parceiro de Carlos Cachaça na composição – como cantor numa gravação. “Cachaça, aliás, era para ter ido também ao navio Uruguay”, informou Ary Vasconcelos, “mas justamente na noite da gravação teve plantão na Central do Brasil, onde trabalhava.”
Encerrando o álbum estão uma dobradinha de cantos indígenas “Teiru / Nozani-Ná” interpretada por quatro professores do Orfeão Villa-Lobos (Brazilian Indian Singers, no rótulo do 78 rpm original), mais uma corima interpretada pelo Grupo do Pai Alufá (“Cantiga de festa”, de Donga e Zé Espinguela) e, por fim, “Canidé ioune”, mais um canto indígena escrito por Villa-Lobos (também autor dos outros dois), este “a partir de um tema recolhido pelo viajante Jean de Léry em 1553”, como nos ensina o pesquisador.
Ninguém, no entanto, teve atuação mais destacada no SS Uruguay, pelo que se lê no encarte de 1987, do que Pixinguinha, que aliás fez na ocasião suas últimas gravações de flauta – nas seguintes, realizadas em meados da década de 1940, em dueto com o flautista Benedito Lacerda, já havia migrado para o saxofone. Mas não foram poucos os elogios que recebeu de Ary Vasconcelos por seu desempenho no estúdio a bordo: foi “empolgante” (“Ranchinho desfeito”), “excitante” (“Caboclo do mato”), “astro” (“Seu Mané Luiz”), “extraordinário” (“Pelo telefone”) e “destaque” (“Passarinho bateu asa”).
Também os críticos estadunidenses aparentemente se encantaram pelo som de sua flauta, a julgar pela crítica publicada na revista Time (16-03-1942), na qual seu nome é o único dos brasileiros citado, ainda que – evidentemente – com erro: “Pixinguingha [sic], um negro de 113 kg ganhador da medalha da Academia Brasileira de Música, contribui com interpretações peso-pluma à flauta”. A referência a Pixinguinha, aliás, é um dos raros trechos que parecem elogiosos da crítica, que, no geral, se limita a dar informações sobre os “dois álbuns vivazes” (este é o outro trecho) da Columbia que chegava às lojas.
Mais efusiva foi a crítica brasileira em 1987, na época do lançamento do LP brasileiro. “Uma das mais disputadas raridades fonográficas da música popular brasileira acaba de chegar ao pick-up dos comuns mortais”, saudou o crítico Sérgio Augusto na Tribuna da Imprensa (01-12-1987). Pois o disco estava “à altura de sua lendária expectativa”, segundo Tárik de Souza, no Jornal do Brasil (25-11-1987). “Pontilhada de surpresas amáveis, a viagem no tempo a bordo do Uruguay ilumina um pouco do Brasil ancestral, ainda na esquina entre o rural e o urbano.”
Ambos, no entanto, fizeram coro – não o dos contentes – com o decano Ary Vasconcelos no contraponto que este deixou registrado no próprio encarte do disco: “Com este lançamento em LP, metade do tesouro artístico está recuperado. Falta localizar agora a outra metade: os fonogramas não aproveitados. Onde estarão? Nos arquivos da CBS? Nos do falecido maestro?”
Já no ano 2000 foi a vez da já citada pesquisadora Daniella Thompson, em sua série textos sobre o “Native Brazilian Music”, retomar o assunto, conclamando seus leitores a se mobilizarem pelo lançamento em CD não só das gravações de 1940, como de outras oito inéditas que permaneciam nos arquivos da Columbia, segundo apuração da própria Daniella. “Quer ser um ativista em nome da música brasileira? Então faça um pouco de barulho”, provocou em seu blog a incansável pesquisadora. “Quem sabe? Alguém pode estar disposto a ouvir.”
Passados 25 anos, as inéditas permanecem inéditas e o desafio, em aberto.
Para saber mais:
>> "Stokowski caçado": série de textos da pesqusadora Daniella Thompson – traduzidos por Alexandre Dias – para o blog Música Brasiliensis (2000)
>> “Villa-Lobos e a Música Popular Brasileira: uma visão sem preconceito”, livro de Ermelinda A. Paz (Museu Villa-Lobos, 2004)
>> "Native Brazilian Music": episódio da série Equipe IMS, produzida e apresentada por Bia Paes Leme na Rádio Batuta (2013)
>> “Cuícas e pandeiros para Stokowski ouvir!: o disco Native Brazilian Music e a Política da Boa Vizinhança (1940-1942)”, artigo do historiador Pedro Belchior publicado na Revista de História da Usp (2020)
>> “Native Brazilian Music: 80 anos”, exposição virtual do Museu Villa-Lobos na plataforma Google Arts & Culture (2020)
>> “Na Trilha da História: Native Brazilian Music”, programa produzido e veiculado pela Rádio Mec (2020)
Na foto principal: Donga, Leopold Stokowski e Villa-Lobos (reprodução do Museu Villa-Lobos)