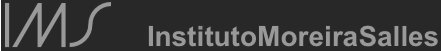“A música tem feito a crônica de Brasília desde a sua pré-história. Muito antes de Tom Jobim conversar com as jaós por meio de apitos na mata do Catetinho, quando veio a Brasília com Vinicius de Moraes para compor a ‘Sinfonia da Alvorada’, em 1960, vencendo quase 1.300 quilômetros de estradas precárias no seu Fusquinha, a polêmica pró e contra Brasília havia migrado para a canção popular”. A pré-história a que se refere Beth Ernest Dias no livro “Sábado à tarde: Avena de Castro, a cítara e o choro em Brasília” (X2 Produções, 2016) remete a 1955, quando ainda não havia nenhuma obra no planalto central – o próprio Juscelino Kubitschek, eleito presidente naquele ano, não tinha sequer tomado posse –, mas a música popular já então louvava a nova capital que estava por vir.
Capital que, embora inaugurada há 65 anos, em 21 de abril de 1960, começara a ser vislumbrada na época do Brasil Colônia, quando o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, sugeriu em 1761 a transferência do centro do poder, então instalado em Salvador, na Bahia – e, a partir de 1763, no Rio de Janeiro –, para o interior do país. A ideia foi abraçada também pelos “inconfidentes” da Conjuração Mineira no final daquele século. Nas páginas do Correio Braziliense – não o jornal criado em 1960 por Assis Chateaubriand, mas o mensário homônimo que circulou entre 1808 e 1822 –, seu fundador, Hipólito José da Costa, redigiu artigos em 1813 a favor da interiorização da capital.
A causa ganharia um forte adepto: no Diário da Assemblea Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil (1823), num dos parágrafos da transcrição da sessão de 9 de junho – presidida por José Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência (declarada por Pedro I em 7 de setembro de 1822) –, encontra-se a seguinte nota: “O Sr. Secretário França deu conta de uma Memória oferecida à Assembleia pelo Sr. Andrada e Silva sobre a necessidade e meios de se edificar no interior do Brasil uma nova Capital para assento da Corte, da Assembleia Legislativa e dos Tribunais Superiores. Foi recebida com agrado (...)”.
Segundo A Noite de 16/03/1946, José Bonifácio, em sua representação à Assembleia, havia inclusive sugerido dois nomes para a cidade: “Esta capital poderá chamar-se Petrópole ou Brasília”, o primeiro deles aludindo ao então imperador Pedro I. Com a proclamação da República (1889), foi feita em 1891 uma nova Constituição, que estabelecia, no seu artigo 3º: “Fica pertencendo à União, no planalto central da República, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura Capital federal”. O parágrafo único complementava: “Efetuada a mudança da Capital, o atual Distrito Federal [OBS: o Rio de Janeiro] passará a constituir um Estado”.
De fato, em 1892, 1894 e 1895 foram enviadas a Goiás comissões para analisar o terreno e promover estudos sobre a viabilidade da mudança. O Decreto 4.194 de 18 de janeiro de 1922, assinado pelo presidente Epitácio Pessoa, estabelecia que a pedra fundamental da futura capital da União deveria ser inaugurada no dia 7 de setembro daquele ano – o que foi feito, com ampla cobertura da imprensa. “No local escolhido, a curta distância da Vila do Planalto, no Morro Centenário, da Serra da Independência, foi levantada uma pirâmide com 33 pedras superpostas, simbolizando os anos da República já decorridos”, informava O Imparcial em 10/09/1922.
De Vera Cruz ao Plano Piloto: o anteprojeto da futura capital (à esquerda) e o projeto de Lúcio Costa (reproduções da internet)
Só após o governo ditatorial de Getúlio Vargas (1930-1945) o projeto seria retomado, com o presidente Dutra criando uma comissão para definir o território, como previsto na Constituição de 1946 (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 4º, parágrafos 1 a 4). Em 1955, a comissão finalmente escolheu a área da nova capital, sugerindo que ela se chamasse Vera Cruz (remetendo ao nome com que os portugueses originalmente batizaram o Brasil), em meio a debates acirrados entre os políticos, na ocasião divididos entre defensores e opositores do projeto. Foi só na presidência de Juscelino Kubitschek, a partir de 1956, que Brasília finalmente começaria a se tornar realidade, através dos traços do arquiteto Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa. É deste último o projeto do Plano Piloto em forma de “avião” – só que não: segundo afirmaria Lúcio Costa, ele pensou numa cruz, como um “gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse”.
Se no planalto central dos candangos – nome dado aos operários que trabalhavam na construção da cidade – a paisagem dos primeiros tempos era insípida, inóspita e poeirenta, na música popular a nova capital já era uma realidade. Em setembro de 1955, Zé Micuim, Goiazinho e Goiá – integrantes do Trio da Amizade – lançaram a guarânia “Brasília”:
Um dia, um engenheiro teve um grande ideal
Trazer para o planalto a capital federal
O engenheiro citado na letra é Jeronymo Coimbra Bueno, senador eleito por Goiás em 1954, que havia participado da construção de Goiânia, capital do estado (inaugurada em 1933), e lideraria no Congresso Nacional o movimento mudancista.
“Entre 1956 e 1960 surgiram mais de setenta canções, entre sambas, sambas-canção, choros, rojões, baiões e frevos e composições de outros gêneros que tematizavam, com acuidade, os acontecimentos e as mudanças relacionados à nova capital”, escreve Beth Ernest Dias. Boa parte dessa produção musical chegou ao público através dos discos de 78 rotações do período, registrando o surgimento da nascente cidade sob pontos de vista bem peculiares. Em “Nova capital” (Aldacir Louro, Sebastião Mota e Edgard Cavalcanti), de 1956, Linda Batista externava uma preocupação do povo fluminense:
Dizem, é voz corrente
Em Goiás será a nova capital
Leve tudo pra lá, seu presidente
Mas deixe aqui o nosso Carnaval
O carioca chora de a lágrima cair
Se o reinado de Momo também se transferir
Na mesma linha seguiu Zé do Norte em 1957 com o coco “Mudança da capitá”:
Pode levar, seu dotô, pode levar o governo federal lá pra nova capital (...)
Mas a beleza desse Rio de Janeiro, coração do brasileiro, ninguém pode carregar
Copacabana, Corcovado e Paquetá, Botafogo, Pão de Açúcar ninguém tira do lugar (...)
Daqui não sai o relógio da Central, nem o samba da Mangueira nem o nosso Carnaval
Tal como na política, também a música popular teve defensores e detratores da mudança – os últimos em menor quantidade, ao menos em 78 rpm. Enquanto Wilson Batista, Nássara e Jorge de Castro bradavam a plenos pulmões – no caso, os de Nelson Gonçalves – “Vou pra Goiás”, Joel de Almeida e Guadalupe revidavam com “Isso não se faz”. Billy Blanco foi taxativo:
Não vou, “Não vou pra Brasília”, nem eu nem minha família
Mesmo que seja pra ficar cheio da grana
A vida não se compara, mesmo difícil e tão cara
Quero ser pobre sem deixar Copacabana
Durante a construção de Brasília, Juscelino – que fiscalizava pessoalmente o andamento das obras – ficava instalado numa construção inaugurada em novembro de 1956, apelidada de Catetinho pelo violonista Dilermando Reis. “No então palácio presidencial, serestas e saraus contavam com a participação de amigos de JK: Dilermando Reis, César Prates, Sílvio Caldas, Altemar Dutra, Glória Maria. Com menos frequência, apareciam os cantores Elizeth Cardoso, Francisco Petrônio e Maria Lúcia Godoy (...)”, relata Beth Ernest Dias. A residência oficial de JK ganharia em 1957 um samba de Mirabeu Pinheiro, Serafim Adriano e Carmen Costa, “Palácio provisório”, que traz uma personagem de nome curioso, Maria Petronília – certamente inventada para rimar com Brasília.
Juscelino me chamou
Eu vou morrer de saudade, mas vou (...)
Brasília me chamou pra trabalhar
Seu doutor, dá licença, minha gente eu vou levar
Assim anunciavam Herivelto Martins e Grande Otelo no final de 1957 em “Adeus Mangueira”, pelas vozes do Trio de Ouro em sua terceira formação (Herivelto, Raul Sampaio e Lourdinha Bittencourt). Neste ano foi lançado o primeiro samba-exaltação sobre a nova capital: “Brasília” (Dilermando Reis e Bastos Tigre), interpretado por César Prates, com melodia pomposa e expressões idem em sua letra: “altiplanura verdejante”, “refulgente fanal” (farol). A composição seria regravada por Heleninha Costa em fevereiro de 1959, com “refulgente fanal” dando lugar a “alvorada real” (um pouco menos pior).
Outro samba-exaltação viria em 1958, o homônimo “Brasília”, de Rômulo Marinho:
Brasília, brotada na terra vermelha
Tu és a grande centelha que ilumina o porvir da nação (...)
Brasília, eu hei de gritar bem alto
Nosso orgulho do planalto que um grande presidente ergueu...
A nova capital ganharia, em 78 rotações, homenagens nesse espírito, digamos, mais patriótico e ufanista, como o hino “Brasília”, de Beduíno, gravado pela cantora Gentil Barbosa no mesmo 1958, acompanhada pelo coro infantil de Zita Martins. Ou a marcha “Avante Brasília”, de José Saudo e J. Fernandes, que o trio Luizinho, Limeira e Zezinha levaria ao disco em 1960, ano de mais um samba-exaltação, “Brasília, capital da esperança”, de Cid Magalhães e Ivo Santos, no vozeirão de Jorge Goulart.
Na mesma linha estão diversas músicas lançadas em 1960, quando a cidade foi inaugurada: o “Hino a Brasília” de Paiva Rezende; a marcha patriótica “Brasília, a capital da esperança”, de Ariowaldo Pires e Enrico Simonetti – que seria relançada com um trecho do discurso de Juscelino Kubitschek inserido no início; a marcha “Brasília 21 de abril”, de Waldomiro B. Ortêncio – louvando a nova capital e seu realizador, o grande homem do presente, moderno bandeirante, o democrata Juscelino, o maior dos presidentes; e a valsa “Brasília, menina moça”, de Rômulo Paes, Aníbal Fernandes e Flávio de Alencar, que chamava a nova capital de menina moça primaveril, filha caçula do papai Brasil. Do outro lado da pompa, estava a gaiatice de compositores como Klecius Caldas e Armando Cavalcanti, que em 1958 brincaram com a agitação e a disposição de JK na marcha “Bicho carpinteiro”.
Também a música instrumental se rendeu desde cedo à nova cidade. Em 1957, Alberto Calçada e Palmeira fizeram a marcha-dobrado “Salve Brasília”, gravada pela sanfona do primeiro com acompanhamento de banda. O gaitista Omar Izar, em 1960, levou ao disco a marcha-polca “Uma gaita em Brasília”. No ano seguinte, o também sanfoneiro Carlinhos Mafasoli interpretou “Brasília”, chá-chá-chá de R. Seijo. Em 1963 haveria mais um solo de sanfona, agora pelas mãos de Rubens Adolfo: “Brasília ideal”, marcha de Vicente Tolezano.
A capa do LP ‘Brasília’, de Enrico Simonetti e Orquestra RGE (reprodução da internet), entre as partituras da marcha ‘Vamos para Brasília’ e do choro ‘Dançando em Brasília’ (ambas da Coleção José Ramos Tinhorão / IMS)
O choro – gênero que se faria muito presente na capital, futura sede de um famoso Clube do Choro, inaugurado em 09/09/1977 – não poderia ficar de fora: com “Dançando em Brasília”, de 1959, o cavaquinista Waldir Azevedo iniciaria sua história com a cidade, onde acabaria morando a partir de 1971. O próprio Waldir gravaria em long-playing sua composição “Roda de samba em Brasília” (1973) e um choro clássico inspirado na capital, “Flor do cerrado” (1977), composto no avião durante uma viagem de Brasília a São Paulo.
No mesmo 1957 em que surgiu Maria Petronília, apareceria outra personagem feminina – mais uma de rima fácil – num frevo-canção de Sebastião Lopes e Felinto Nunes de Alencar, o Carnera: “Adeus, Emília”, / O JK me mandou para Brasília. Ela daria o ar da graça em 1958 num outro frevo-canção de Sebastião Lopes (“O bom Sebastião” cantado por Getúlio Cavalcanti), “Palácio da Alvorada” – aqui, um parente da moça aproveitava para pleitear uma “boquinha”:
Ai, ai, meu JK
Brasília é o futuro e eu preciso ir pra lá
Eu sou o José, o irmão da Emília
E quero trabalhar lá em Brasília
A garota também seria citada em 1958 na marcha “Vamos pra Brasília”, de Átila Bezerra, Sebastião Gomes e Waldir Ribeiro:
Está na hora, Emília
É agora, Emília
Deixa o Rio, vem comigo pra Brasília
A ideia não é má, nasceu de JK
Então vamos pra lá que vai ser um chuá
Outras musas logo chegariam: João Roberto Kelly e José Saccomani apresentaram ao mundo “Maria Brasília”, a menina dos olhos do papai JK. A de Carlos Diniz, no xote “Vou pra Brasília”, chamava-se Maria Emília.
O mineiro Juscelino havia virado, ele mesmo, um personagem da música popular, muitas vezes lembrado pelo apelido que carregava desde os tempos de menino em Diamantina. “Deixa o Nonô trabalhar”, pedia Ricardo Galeno em 1957, equiparando a cidade em construção a uma escola de samba. Em “Ninho do Nonô”, de 1960, Denis Brean imaginava JK como um pássaro que voou longe até achar um caminho para fazer um belíssimo ninho. No samba “Me leva, seu presidente”, de 1958, José Rosas anunciava:
Vou-me embora e não levo saudade da Guanabara
Vou-me embora pra Brasília, pois Brasília é joia rara (...)
Me leva, me leva, seu presidente, que eu vou
Gordurinha – com a maestria de sempre – também fez, em 1959, a sua “Homenagem a JK”:
Eis que surge um brasileiro lá de Minas
Um mineiro que fez seus irmãos se abraçar (...)
E a capital, que vivia na praia
Já vai pro sertão, onde o povo trabalha
Bota fogo na fornalha e faz esse trem viajar
O Brasil tava dormindo
Mas agora tá saindo do berço pra caminhar
E Juca Chaves – com o humor que lhe era peculiar – criou, em 1960, talvez a mais famosa: o samba teleco-teco “Presidente bossa nova”, que ganharia uma “resposta” de Teotônio Pavão, “Presidente bossa velha”, alusão a Jânio Quadros, candidato à presidência nas eleições daquele ano. Em fins de 1960, o garboso Juquinha voltaria a mencionar JK em “Mudança de destino”.
No melhor estilo adoniranbarbósico, Altamiro Carrilho, Miguel Gustavo e Carrapicho fariam avoá as “Brabuletas de Brasília” em 1958:
Nós semo as brabuleta de Brasília
Viemo lá da nova capitá
Voemo tanto, sinhô rei, voemo tanto, sinhô rei
Que as nossas asa tá cansada de avoá
Voemo tanto para brincá durante os dias de Carnavá
Outra composição a la Adoniran foi o samba “Brasília”, de Jackson do Pandeiro e Altamir M. de Oliveira:
O governo tem razão
O Brasil, pra melhorar, nós temo que trabaiá
Explorar nossas riqueza e pôr as carta na mesa
E deixa os contra falá
A “Transferência da capital” continuava sendo o assunto do dia, como neste coco de Venâncio e Corumba de 1960. Um ano antes, Godêncio fizera a sua “Saudação a Brasília” em forma de guarânia e um Blecaute meio country revelou a história de “Um romance em Brasília”. Já no ano da inauguração, Geraldo e Carvalhinho fariam o “Samba de Brasília”; Pacheco Silva e Sanica recordariam os primórdios da construção na chula “Brasília”; e Teddy Vieira, Lourival dos Santos e Tião Carreiro aproveitaram o mote da nova capital para lançar em disco o primeiro pagode de viola da história, “Pagode em Brasília”:
Bahia deu Ruy Barbosa, Rio Grande deu Getúlio
E Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho
Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei das coxilha
Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha
Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília
Como que a legitimar seu posto de musa da MPB, a nova capital passou a inspirar títulos e faixas de LPs no próprio ano em que foi inaugurada. São de 1960 os álbuns “Brasília”, de Enrico Simonetti com a Orquestra RGE, e “Melodias da Alvorada”, de Dilermando Reis, ambos trazendo em suas capas o Palácio da Alvorada, que substituiu definitivamente o Catetinho como residência oficial da presidência. Ainda neste ano foi lançado o disco “De Cabral a Brasília”, do sambista Risadinha. Em 1961, chegaria às lojas o LP “Brasília – Sinfonia da Alvorada”, contendo a obra composta em dez dias por Tom e Vinicius quando da já citada passagem de ambos pelo Catetinho, com a ilustração da capa feita por Oscar Niemeyer.
À esquerda, o arquiteto Oscar Niemeyer em frente ao Palácio da Alvorada acompanhado de Tom Jobim, que compôs com Vinicius de Moraes as músicas da 'Sinfonia da Alvorada', obra gravada neste LP com capa desenhada pelo próprio Niemeyer (reproduções da internet)
O Distrito Federal continuaria a ser cantado em verso e prosa nas bolachas de 78 rotações até 1964, ano em que elas pararam de ser fabricadas no Brasil. Em 1962, Panami gravou (com Muzambinho) seu rasqueado “De São Paulo a Brasília”, narrando uma viagem por cidades do Sudeste até chegar à Região Centro-Oeste e a Brasília, terra da esperança que fica lá no planalto central. A alvorada da nova capital parecia despertar em muitos compositores um ufanismo exacerbado e a (ingênua) crença de que Brasília seria uma espécie de solução para os problemas do país.
No samba “Espelho de Brasília”, Candango do Ypê e Jesus Schitini não deixam dúvidas:
És a mais linda cidade brasileira
Nasceste em meio da poeira (...)
Teu horizonte deslumbra o universo
Que contempla teu lindo céu de anil
Inspiras o mundo em teus versos
És a esperança do nosso Brasil
A letra menciona o italiano Giovanni Melchior Bosco e um sonho – considerado profético – de 1883, publicado no livro “Memórias Biográficas de São João Bosco”, escrito pelo padre Lemoyne, seu assistente. Diz este que Bosco – sem nunca ter sequer pisado na América do Sul – teria vislumbrado, “entre os paralelos 15º e 20º”, o aparecimento de uma “grande civilização, a terra prometida, onde jorrará leite e mel”, com uma “riqueza inconcebível”. Dom João Bosco, padroeiro de Brasília ao lado de Nossa Senhora Aparecida, certamente deveria estar se referindo às mordomias das quais a futura classe política do local iria desfrutar.
Numa moda de viola de 1963, “Hotel de Brasília”, Galho Velho e Francisco Lacerda abordaram a questão do preconceito racial, uma antiga e triste chaga do nosso país. Finalmente, no início de 1964, foi lançado em disco o “Hino a Brasília” de Décio Quaglianoni, cuja letra faz menção às Forças Armadas – que naquele mesmo 1964 teriam um papel lamentável na instauração da ditadura que obscureceria o Brasil por 21 anos.
A Brasília da Esplanada dos Ministérios, do Palácio da Alvorada e do Congresso Nacional receberia, nas décadas posteriores à inauguração, merecidas estocadas dos roqueiros que fariam da capital federal um dos berços do BRock nos anos 1980 (como Renato Russo, mais atual do que nunca...). Ao largo dessa Brasília irreal – ou surreal – dos políticos e da politicagem, há a Brasília real das superquadras, das entrequadras, dos blocos, dos pilotis, das áreas de comércio, dos bares onde se ouve samba, sertanejo, pagonejo, rock, forró, reggae e tantos múltiplos gêneros.
É a Brasília real dos parques e áreas de lazer, dos ipês, dos centros culturais, da feira de artesanato na Torre de TV, do Eixo Monumental, do Eixão e dos Eixinhos. Dos baús da rodô, dos véi e dos fera, com seu jeito único de falar. Do Shopping Conjunto Nacional, na Asa Norte; e, no lado oposto, do Setor de Diversões Sul, o popular Conic, underground cultural, com suas lojas – de instrumentos musicais, discos, quadrinhos, roupas, produtos de sex-shop –, seus bares e restaurantes e o tradicional Teatro Dulcina de Moraes, sem esquecer dos estilosos vampiros que circulam por lá em plena luz do dia.
Cidade mal falada por quem nem a conhece, mas capaz de inspirar declarações de amor não só dos brasilienses (carinhosamente chamados de candangos), mas de pessoas de fora, como o compositor capixaba Sérgio Sampaio, que em 1994 gravou, numa fita demo, suas impressões sobre “Brasília”:
Quase que me sinto em casa em meio a suas Asas
E “Ws” e “Ls” e Eixos e ilhas
Brasília, cidade que um dia eu falei que era fria,
Sem alma, nem era Brasil
Que não se tomava café numa esquina
Num papo com quem nunca viu
Sei que preciso aprender
Quero viver pra saber e conhecer Brasília.
Na imagem principal: croqui da Praça dos Três Poderes por Oscar Niemeyer / Google Arts & Culture