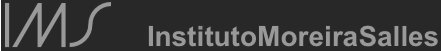O Dia Nacional da Consciência Negra é, tradicionalmente, um dia dedicado à reflexão. Ao reconhecimento do legado de Zumbi dos Palmares, o grande líder quilombola que, mesmo passados 330 anos de seu assassinato (em 20-11-1695), continua inspirando a luta e a resistência do povo negro no Brasil. Uma história repleta de feridas, mas também de conquistas e contribuições fundamentais para o que reconhecemos como Cultura Brasileira. Já pensou no que seria da música popular brasileira sem pandeiro, surdo e tamborim? Sem o choro, o frevo, o maracatu e os sambas – de roda, de terreiro, de enredo e no pé...?
Aqui na Discografia Brasileira estão – nas milhares de gravações em 78 rpm que compõem a nossa base – inúmeros exemplares desta história. Da criação e da transformação de tantos gêneros musicais brasileiros ao longo do tempo. De grandes artistas negros decisivos para a grandeza desta nossa expressão cultural. Estão também incontáveis exemplares de como, apesar de todos os pesares (ou talvez por causa deles), é preciso festejar, dançar, cantar, tocar, pois assim também se resiste.
Na região da Pequena África, por exemplo, a festa podia ser na forma de um “Samba em casa de baiana”, como no título deste partido-alto de Alfredo Brício, o Alfredinho, chorão primordial que toca seu clarinete neste registro lá de 1912 lançado pela Casa Faulhaber, uma das gravadoras da fase mecânica. Pois esses “sambas” – palavra aqui usada no sentido de “festas musicais” – eram frequentes nas casas das chamadas “tias” baianas, as senhoras negras que migraram do nordeste e, estabelecidas na região entre o Estácio e o Cais do Porto, fizeram-se figuras referenciais também como líderes religiosas e comunitárias. Na casa da baiana Ciata, a mais famosa delas, teria sido feito o famoso “Pelo telefone”, lembrado na história como “o primeiro samba”.
Um que não perdia essas fuzarcas era outro Alfredo (da Rocha Vianna Filho), que ainda era menino quando sua flauta virou protagonista onde quer que houvesse choro. Não precisou de muito tempo para ser reconhecido também como grande compositor, arranjador e saxofonista, tornando-se um nome central — Pixinguinha — na música brasileira. Com os Oito Batutas, fez sucesso em Paris numa turnê em 1922, arregalando o público com performances como a do choro “Urubu”, o famoso tema de Lourival dos Santos (Louro) que o conjunto gravaria durante a turnê seguinte (1923), na Argentina.
Dos terreiros que conheceu na Pequena África e outras localidades da cidade ficaram lembranças que possivelmente serviram de base para composições que fez, como os lundus — em parceria com Gastão Vianna — “Yaou africano” e “Uma festa de Nanam”. Ambos foram lançados em disco por outro grande nome da época, o cantor Patricio Teixeira, cuja voz certeira é ouvida também na gravação original de “Dona Clara (Não te quero mais)”, composição dos melhores amigos de Pixinguinha – Donga e João da Baiana – que deve ter arrepiado, naquele ano de 1927, os ouvidos mais sensíveis a esse papo de feitiço e conversa com Exu.
Pois quando o Tio Sam quis conhecer a nossa batucada e mandou até um navio para gravar a “Native Brazilian Music” (1940), Donga compareceu com outras composições, entre elas a corima “Cantiga de festa”, em parceria com Zé Espinguela. É deste – pai-de-santo importante do Rio de cem anos atrás – a voz masculina que abre a cantoria, depois encorpada pelo belo coro de seu conjunto, o Grupo do Pai Alufá. Também atuante no carnaval, Espinguela organizou em seu terreiro, no Engenho de Dentro, o primeiro concurso (musical apenas, sem desfile) entre escolas de samba, realizado em 1928 e vencido pelos compositores de Oswaldo Cruz – depois Portela.
Mas quem fez as primeiras gravações de pontos religiosos na história foi o Conjunto Africano, de Eloy Antero Dias e Getúlio Marinho. Isso em setembro de 1930, quando a Odeon lançou o 78 rpm de número 10.679, com “Ponto de Ogum” (composição de Getúlio Marinho) e “Ponto de Inhansan” (dele com Mano Eloy). Mestre-sala disputado na época dos ranchos carnavalescos, Marinho (que atendia pelo singelo apelido de “Amor”) assina a autoria de inúmeros pontos, como o ótimo “Quilombô”, gravado em 1932 com arranjo de samba, tendo como solista um certo João Quilombô – pseudônimo do próprio Marinho, segundo o pesquisador José Ramos Tinhorão.
Mas sucesso mesmo foi o que fez “Cadê Vira Mundo”, o batuque de J. B. de Carvalho que o Conjunto Tupi lançou em setembro de 1931 e, no janeiro seguinte, já ganhava sua primeira regravação, pelo grupo da Guarda Velha. Não à toa, foi uma das músicas mais cantadas no “carnaval da macumba”, como ficou conhecida a folia de 1932. Dos terreiros pro salão foi também o percurso de “General da Banda”, a batucada de Tancredo Silva (o “papa negro da Umbanda”) que, antes de dominar o carnaval de 1950, já era bem conhecida pelo povo de santo, como ponto dedicado a Ogum – o “General da Umbanda”.
Já nos domingos de outubro, embora os tambores estivessem presentes nas cantorias que tomavam o arraial da Igreja de Nossa Senhora da Penha, a fé católica era – e ainda é – o principal chamariz para os devotos da santa. E ai de quem não fosse bem vestido, como o mangueirense Cartola deixou registrado no samba “Festa da Penha”, de 1961: “Só não subirei a escadaria ajoelhado / Para não estragar o terno que for emprestado”, diz o poeta mangueirense, em parceria com Asobert (apelido de Adalberto Alves), como que respondendo a “Vai trabalhar”, em que J. Thomaz cantava, em 1931: “Tá sem roupa, meu bem...? Vai trabalhar! Depois vem pro samba, vem gozar!”
O santuário, que já não é mais parada obrigatória para os sambistas, continua sendo um ícone da cidade, diferentemente da Praça Onze, desaparecida do mapa desde o começo da década de 1940, para dar lugar à Avenida Presidente Vargas. Habitada por negros, judeus, ciganos e outras gentes à margem de um Rio que se pretendia francês desde a virada entre os séculos 19 e 20, a praça era ponto de encontro de sambistas e sediou os primeiros desfiles das escolas de samba, a partir de 1932. Daí o misto de tristeza e medo que levaram Grande Otelo a fazer – com Herivelto Martins – sua despedida na forma de um samba, “Praça Onze”, sucesso de 1942.
“Mas felizmente ficou o samba / E com o samba ninguém pode acabar”, cantaram os Quatro Ases e Um Curinga, para alívio geral, em “O samba não morre”, composição de Marino Pinto e Arlindo Marques Júnior lançada em 1944. Estavam certos: o desfile, antes de chegar ao Sambódromo (1984), a passarela onde vive firme e forte, teve endereços diversos. Em 1963, por exemplo, estava na própria Avenida Presidente Vargas quando um desfile histórico sobre “Chica da Silva” deu o título de campeã à Acadêmicos do Salgueiro, pioneira escola a valorizar temas da negritude como enredos nos carnavais.
Quem deu voz ao samba-enredo de Anescarzinho e Noel Rosa de Oliveira na avenida foi Monsueto Menezes, o showman – comediante, cantor, ritmista, compositor, pintor... – que, no samba, era um mestre na ginga. Ou no “Ziriguidum”, como ele mesmo demonstra na gravação (ritmada, sensual, irresistível...) feita em 1962 com outra autoridade no assunto, Elza Soares. E qualquer pessoa que tenha a sorte de ouvir este dueto risonho, mesmo que triste e amargurada, periga reencontrar a “Alegria” (Assis Valente e Durval Maia) e, entre gritos de “Salve o prazer!”, continue no remelexo, ainda que o corpo esteja “Cansado de sambar” (outro de Assis).
Mas se o cansaço for incontornável, recomenda-se trazer para a roda Heitor dos Prazeres, artista visual e sambista de excelência que reabre os trabalhos com sua “Afine o cavaquinho”: “Ô, Zé... Deixa a morena sambar!” E quem sabe não foi também para ela que Aurélio Gomes e Baiaco dedicaram “Arrasta a sandália”? Ou que seja ela a “Maria do babado”, cabrocha que os geniais Bide e Marçal inventaram no Estácio, o bairro em que ajudaram a formatar o samba urbano carioca – a Bide, sapateiro de profissão, é atribuída a invenção do surdo de marcação.
Outro protagonista desta história é Paulo da Portela, o grande compositor e fundador da escola de samba que leva em seu nome, além de líder comunitário e porta-voz do samba com a imprensa com o poder público. Não à toa Nei Lopes o define, em seu livro “Guimbaustrilho” (Dantes, 2001), como “um dos grandes defensores e propagadores da cultura dos negros” e, ainda, “um dos maiores alavancadores do processo de aceitação do samba pela cultura dominante”. Quando faleceu, aos 48 anos (1949), seu corpo foi escoltado por uma multidão estimada em 15 mil pessoas até o cemitério de Irajá, onde foi sepultado, antes de receber homenagens musicais como “Chorou Madureira (Paulo da Portela)”, samba de Haroldo Lobo que Aracy de Almeida gravou com sucesso em 1950.
Pois velório, cortejo e gurufim, embora nem sempre reconhecidos como festas (pela carga emocional e pela tristeza envolvidas), se inserem perfeitamente – como ritos de passagem que são – entre as celebrações pelas quais se expressam a nossa cultura e a nossa tradição. Ambas mestiçadas, sim senhor: misto de tantas coisas, entre elas o maracatu e o samba de preto-velho, que o carioca Jorge Benjor – filho de mãe etíope, criado no Rio Comprido – reprocessou em seu primeiro sucesso, “Mas que nada”, que o povo conheceu lá em 1963 e, ainda hoje, nos lembra o quanto a música brasileira deve à ancestralidade afro-brasileira e à capacidade inesgotável de se reinventar através da inspiração de seus artistas.
Na ilustração: óleo sobre tela sem título de Heitor dos Prazeres em 1964, fotografado por Sérgio Guerini (Cortesia Almeida & Dale Galeria de Arte) / Reprodução do catálogo 'Pequenas Áfricas: o Rio que o samba inventou' (IMS, 2023)